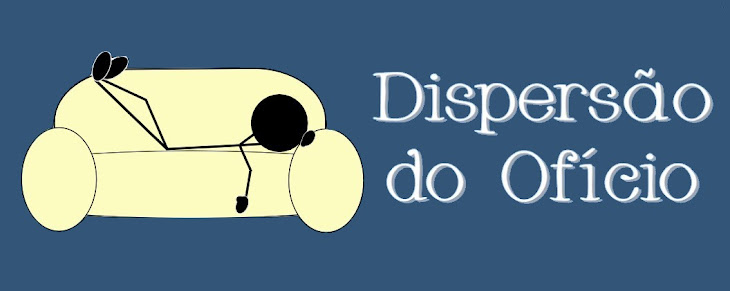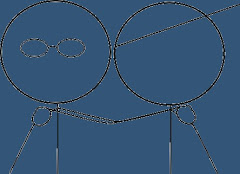Era o tempo da inocência, o senso comum diria. Seis pra sete anos de idade. Mas, o que aconteceu ali, naquele pequeno quarto, a mesma multidão de pessoas comuns atestaria como a maior devassidão. Inocentes participando disso? É, a ambigüidade é a melhor forma de se entender a vida.
Uma garota e dois meninos, trancados em um cômodo. Um agravante: a garota tinha, entre os participantes dessa experiência nada pueril, um irmão mais novo.
Numa cidadela distante, longe da civilização (não, não era a terra do personagem da música Faroeste Caboclo), vivia eu e meus pais. As distrações quase inexistiam. As poucas que tínhamos acesso eram boladas por nós mesmos, em comunhão com os vizinhos. Local onde uma boa relação com a comunidade seria crucial para uma vida harmônica, já que não tínhamos a opção de nos enfiar em casa, distraindo-nos com televisão, internet ou filmes. O jeito era ir pra rua e conviver com as pessoas.
E, a minha parte, eu fiz bem: convivi intensamente com meus vizinhos infantis. Esses dois, que participaram do tema deste relato, moravam ao lado de casa. Dos seus nomes não consigo me lembrar. Como tudo isso começou, também não.
O que mais lembro? Ah, as brincadeiras! Quando, diariamente nos juntávamos, elas é que davam à tona, de forma deliciosa. Nesses momentos, a descontração favorita era a formação de uma família imaginária, composta de pai, mãe e filho. (Como eu e a garota éramos os mais velhos, os principais papéis ficaram fáceis de serem preenchidos. Claro que também tinha o agravante de um irmão não poder ser casado com a irmã, mesmo de brincadeira.).
Ali, trancados no dormitório dos vizinhos, as minhas tardes passavam com uma rapidez impressionante. O calor, o local abafado, nada disso incomodava tanto. O que importava mesmo era o prazer dos divertimentos infantis. No entanto, de forma abrupta, tudo tomou contornos mais sérios, e passamos a temer represálias por conta das nossas alegrias incontidas e prazeres escondidos, guardados somente para nós.
Num dia especial, ficou marcada a nossa passagem para o mundo da maldade, dos adultos, dos múltiplos sentidos de uma experiência. Uma moça, que trabalhava naquela casa, resolveu dar uma vistoriada nas nossas ações. E o que viu a assustou mais que a traição do seu marido em sua própria cama. Ficamos sem entender nada, somente com medo, gerado pelas ameaças desta: - Vou contar tudo para os seus pais.
A imagem daquela tarde inofensiva chegou aos ouvidos dos nossos juizes. Olhada com a visão de hoje, realmente era assustadora aquela brincadeira. Três crianças, uma no chão e duas na cama. A única composta com vestimentas estava no chão, alheia ao que acontecia perante os seus olhos. No leito, a nudez estava disfarçada pelo lençol, que logo gerou desconfiança por conta da tarde ensolarada e da temperatura alta. Quando puxada, levou a mais um espanto. Agora éramos réus, acusados de libertinagem e práticas incoerentes com as nossas idades.
A promotora atuou com competência, apontando todos os detalhes que iriam agravar a nossa situação: além da nudez, nossas mãos estavam em locais considerados “proibidos”. A inexperiência em lidar com assuntos tão complexos nos fez péssimos advogados de defesa. Tentamos convencer que o estado natural seria por conta do forte calor, mas não resolveu muito.
Como resultado, ficamos muito tempo sem nos ver. Fui proibido de entrar naquela casa. Os pais dos meus amigos (principalmente o pai), não conseguiam olhar pra mim sem demonstrar um ódio latente.
Apesar desse universo parecido com os enredos dos livros de Nelson Rodrigues, para nós era apenas uma brincadeira. Uma inocente brincadeira de criança, na qual o hedonismo predominava e a moral e os juízos de valor não estavam representados. Claro que, aos olhos adultos, tudo foi levado a sério. No final, tudo deu certo. Ao contrário da música do Chico Buarque, nesse caso quem inventou o pecado, acabou inventando também o perdão.